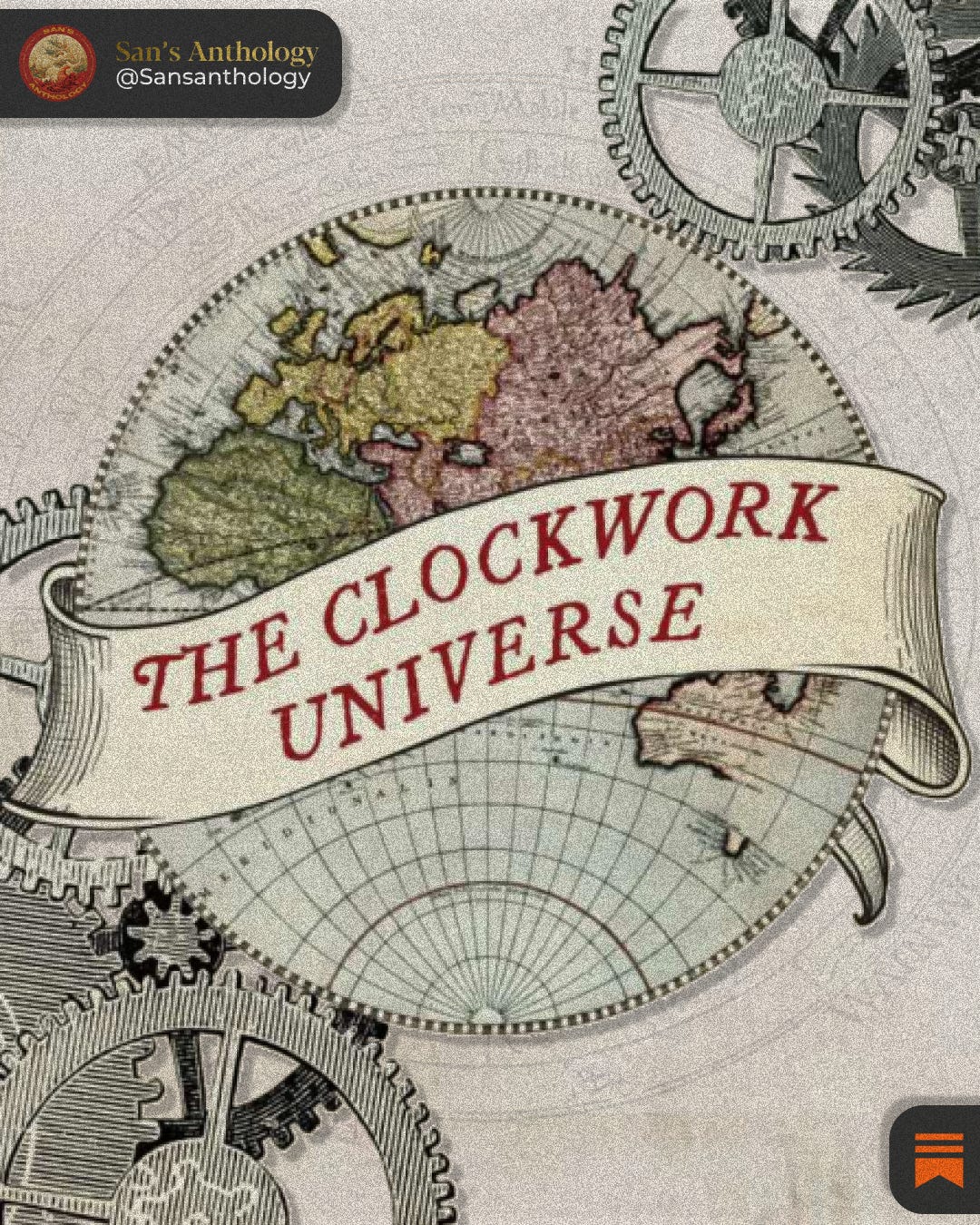A Matemática é a Disciplina mais Fácil que Existe
Fale a um físico-matemático que o homem é um animal-racional e em seguida peça a ele para comparar cada uma das pessoas que ele vê com a definição “animal-racional” e identificar em cada uma delas o que é animalidade e o que é racionalidade. Obviamente, o físico-matemático irá achar algo extremamente difícil. Porque o conceito animal e o conceito racional inclui inúmeros tipos de sinais. Na matemática, a linha reta é sempre uma linha reta, ela sempre tem o mesmo sinal; 2 + 2 sempre será 4, um cálculo de um triângulo sempre será da mesma forma. Agora compreender fenômenos torna-se extremamente difícil para o físico-matemático. Um símbolo ou sinal comporta inúmeros tipos de significado que apenas um sujeito que tenha treinado sua percepção entenderá.
O aprendizado da Matemática ocorre pela adaptação do raciocínio. Se treinar bastante, você vai começar a pensar de forma matemática — e também perceberá que está pensando de forma totalmente mecânica — e realizar os cálculos e abstrações necessárias. Estudar essa disciplina necessita muita concentração, por isso é tão fácil se fechar no pensamento matemático. O sujeito que é físico-matemático pensa nessa disciplina o tempo todo; daí percebe-se o motivo deles serem indiferentes a “Deus” ou a questões muito abstratas — o que não quer dizer que eles sejam necessariamente ateu. De qualquer forma, o objeto de estudo do físico-matemático é menor que de um metafísico ou filósofo, porque, em suma, estamos lidando com quantidade.
Enquanto o metafísico quer retornar à “primeira palavra”, a da Intelecção primordial, o físico moderno, ao contrário, quer ter a “última palavra”: assim, certos físicos-matemáticos não parecem compreender é que o mecanismo do mundo não pode ser nem puramente determinista nem a fortiori puramente arbitrário. Em verdade, o Universo é um “véu tecido de necessidade e de liberdade, de rigor matemático e de jogo musical”; todo fenômeno participa desses dois princípios.
Galileu e o Clockwork Universe
No século XVII a ideia de mecanismo começou a impregnar a mente europeia da época. Com Galileu (1564-1642) o olhar científico começa a desviar-se manifestamente — do céu para a terra, pode-se dizer; isto é, o objeto de conhecimento da ciência tornou-se a quantidade; ocorre então, um esmagamento da qualidade pela quantidade. Em outros termos, a ciência moderna é ao mesmo tempo um racionalismo totalitário que ignora a Revelação e o Intelecto; e um materialismo totalitário que ignora a relatividade metafísica – e, portanto, a impermanência — da matéria e do mundo; ela ignora que o supra-sensível — que está além do espaço e do tempo — é o princípio concreto do mundo, e também que ele está, por consequência, na origem dessa coagulação contingente e cambiante a que chamamos “matéria”.1
Como observam historiadores da ciência, ainda à altura do século XIV essa concepção já estava aparecendo graças a construção de relógios astronômicos gigantescos. “Nenhuma comunidade europeia podia manter a cabeça erguida a menos que no seu núcleo urbano girassem planetas em ciclos e epiciclos, enquanto trombeteavam anjos, cantavam galos e saíam marchando e contramarchando apóstolos, reis e profetas ao badalar das horas”2. Como eu havia escrito no meu outro textos “Os Problemas Espirituais Dentro do Pensamento Moderno”, apesar do prodígio da arte mecânica na época, ocorreu uma inversão entre o princípio e o seu modelo representativo3; isto é, a partir desta inversão, surgiu, então, o clockwork universe4.
Ademais, graças as descobertas mecânicas de Galileu — do qual veio logo a ser em seguida incorporadas à construção dum relógio de pêndulo, inventado por Huygens em 1656 — mostrou-se evidentemente que o conceito de mecanismo caía como uma luva no generalizado privilegiamento da matemática, passando assim a constituir um dos ingredientes essenciais da nova Weltanschauung.
Kant e Descartes: Uma Nova Perspectiva
Para a nova Weltanschauung — “cosmovisão” — se consolidar totalmente, faltava apenas um ingrediente: o postulado da bifurcação. Então, surgiu o aclamado filósofo francês René Descartes com a sua grandiosíssima veia metafísica, que deu à nova visão uma forma plenamente articulada. Descartes forneceu tal bifurcação na forma do infame dualismo: res extensa — res cogitans. Com esta bifurcação, o cosmos físico foi reduzido a uma mera extensão. O método cartesiano foi capaz de reduzir todos os campos das atividades humanas em campos empíricos — o universo tornou-se um grande experimento de laboratório, uma visão verdadeiramente anti-religião. Para mais explicações, na ontologia cartesiana, a “forma” e a “matéria” aristotélicas são substituídas pelas substâncias res cogitans que é definida como a qualidade do pensamento, mas sem extensão e res extensa que tem extensão espacial, mas não tem pensamento. Desse modo, Descartes e também Galileu, dividiram — e trouxeram também o “subjetivismo”5 — o mundo no que veio a ser conhecido como “qualidades primárias e secundárias”. Eles classificaram como “primários” atributos como número, extensão, forma e movimento, que não dependem de avaliações subjetivas, e podem ser medidos com certa precisão; e os “secundários” como atributos como cor, sabor, odor, som e toque — isto é, “qualidades” propriamente ditas — que dependem da percepção subjetiva. Em suma, é um universo mecânico, constituído de res extensa (a posterior “matéria” newtoniana) a mover-se no espaço de acordo com leis mecânicas. Todo o resto fica relegado a res cogitans, ou substância pensante, que existe por si só como uma espécie de entidade espiritual6.
Assim como Descartes, Kant estava preocupado em apoiar a ciência da mecânica sobre uma firme base teológica. A solução kantiana para o problema resumia-se em puxar os objetos para o lado de cá do abismo. O filósofo prussiano começa observando que “por meio do sentido externo, propriedade da nossa mente, temos a representação dos objetos como exteriores a nós, situados todos no espaço”7. Com uma lógica aguçada, ele começa a desenvolver o conteúdo da sua premissa:
O espaço não é um conceito empírico, derivado de experiências externas. Efetivamente, para que eu possa referir determinadas sensações a algo externo a mim (quer dizer, a algo situado em outro lugar do espaço que o ocupado por mim), e igualmente para que eu possa representá-las como estando fora de mim e ao lado umas das outras, e portanto não só como se fossem diferentes, mas ainda posicionadas em lugares diferentes, é necessário que a representação do espaço seja um pressuposto. A representação do espaço, por conseguinte, não pode ser empiricamente obtida das relações dos fenômenos exteriores. Ao contrário, a experiência externa é que só é possível mediante essa representação.8
Kant avança à inevitável conclusão do argumento: “O espaço não representa nenhuma propriedade das coisas-em-si, nem tampouco as representa em relação umas às outras”.9 À investigação kantiana do espaço segue-se a do tempo; Kant chegou na conclusão que o espaço é “a forma pura da intuição externa”, o tempo revela-se “a forma pura da intuição interna”10, e, portanto, “a condição apriorística formal para qualquer fenômeno que seja”.
Como pode ser observado, Kant resolve o impasse da bifurcação, e proporciona uma base concebível para uma justificação rigorosa do conhecimento científico. Contudo, Kant e ainda outros que tenham criticado Descartes com veemência, involuntariamente adotaram a premissa central do sábio francês — o encanto do cartesianismo não foi quebrado. Durante mais de dois séculos, essa autêntica idée fixe manteve a filosofia europeia numa espécie de caverna de Platão que poucos pensadores conseguiram escapar. E o resultado disso foi uma desumanização da inteligência e a porta aberta a todas as aberrações anti-humanas de nosso século.
O Homem no Universo, Frithjof Schuon. p. 161-162; “A ciência dita ‘exata’ é na verdade uma ‘inteligência sem sabedoria’, assim como, inversamente, a filosofia pós-escolástica é uma ‘sabedoria sem inteligência’.”
Lynn White, Medieval Technology and Social Change. Oxford: Oxford University Press, 1962, p. 124.
Não é à toa que os vedantinos chamam a ignorância de “tomar uma corda por uma serpente”.
Universo mecânico, ou, literalmente, universo análogo ao mecanismo de um relógio — um mecanismo que Deus dá corda e deixa “funcionar”.
O moderno preocupa-se necessariamente com o objeto, mas é no contexto de seu subjetivismo e no interesse deste; notamos que na origem o termo “sujeito” era sinônimo de “predicado” e também de “substância”; não foi senão por Kant que o “sujeito” tornou-se o consciente, o cognoscente e o pensante. Mas como essa interpretação tornou-se comum na linguagem moderna, seguimos o costume.
É digno de nota: “a res cogitans surge a Descartes logo no início das suas meditações como a uniquíssima certeza imediata — o famoso cogito ergo sum —, ao passo que a existência do universo mecânico, âmbito externo à res cogitans, é alcançada só depois por meio de um argumento lógico construído sobre a ideia de Deus e Sua veracidade. É mesmo uma ironia assinalável que a premissa básica do materialismo moderno se tenha fundado sobre a teologia!”, Cosmos and transcendence, Wolfgang Smith.
Critique of Pure Reason. Nova York: Random House, 1958, p. 43.
Ibid., p. 43.
Ibid., p. 46.
Para Kant, a intuição intelectual — da qual ele não compreende a primeira palavra — é uma manipulação fraudulenta (Erschleichung), o que lança um descrédito moral sobre toda intelectualidade autêntica.